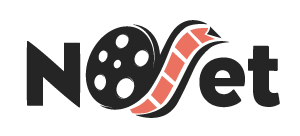Crítica: Indiana Jones e a Relíquia do Destino
Chega a parecer inacreditável que, graças a uma conversa de dois amigos trintões na beira de uma praia no Havaí, no fim dos anos 1970, tivemos a cerne de um dos maiores personagens da história do cinema. Esses tais trintões eram apenas os cineastas George Lucas e Steven Spielberg, que aproveitando uma folga e esperando os resultados de seus dois mais recentes filmes, no caso Star Wars e Contatos Imediatos do Primeiro Grau, através de uma ideia de Lucas criaram, simplesmente, Indiana Jones. E desde 1981, o aventureiro mais famoso da história do cinema encantou gerações com seu chapéu e chicote em quatro filmes, transformando Harrison Ford em uma lenda. Mas aí vem aquela pergunta que sempre me faço: precisaria ele, com 80 anos, estrelar mais um filme que é ação pura, agora sobre as rédeas da chatonilda Disney e sem a direção do Spielberg? Enfim, eu sinceramente achava que não, até porque sua última aventura no cinema, Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, não foi grande coisa, pra dizer a verdade, quase esquecível. Mas como o cinema anda sempre atrás de poucas novidades, tivemos a estreia, dias atrás, do aguardado quinto filme da saga, Indiana Jones e a Relíquia do Destino (Indiana Jones and the Dial of Destiny, 2023), com a série agora dirigida por James Mangold.
O filme tem início em 1944, quando Jones e um amigo, o arqueólogo Basil Shaw, enfrentam nazistas para impedir que os alemães, já em fim de guerra, tomem posse do mecanismo de Anticítera, artefato criado por Arquimedes, que segundo a lenda, poderia ter o poder de fazer viagens no tempo. Liquidando os nazistas, Indi e o amigo ficaram com metade do artefato, o outro ficou com um cientista alemão. No pulo temporal chegamos até 1969, onde nosso aventureiro vive em Nova York. Morando num prédio comum, tem problemas com vizinhos que ouvem Beatles em volumes altos, pendura suas roupas em varais improvisados e está prestes a se aposentar da faculdade em que dá aula. Mas estamos em 1969, onde a América vive guerra fria, Vietnã, a chegada do homem à lua, os movimentos jovens em polvorosa, o rock tomando conta e Indiana, um senhor quase sem espaço nessa “balbúrdia” dos anos 1960. Até que ele encontra Helena Shaw, sua afilhada e filha de seu amigo arqueólogo Basil. Ela também é arqueóloga, mas ao contrário do pai e do padrinho, ganha dinheiro vendendo artefatos pelo mundo. Através de Indiana consegue a metade da Anticítera e foge com ela, mesmo sendo perseguida por Voller, aquele nazista obcecado pelo artefato, que possui a outra metade e que hoje está trabalhando para o governo americano. Vendo que sua afilhada corre perigo, o mundo idem, um nazista louco quer ficar de posse de um artefato de poderes misteriosos e sem controle, não resta nada a não ser que Indiana Jones pegue o chapéu e parta para sua última aventura.
Confesso que como um bom fã do Indiana Jones, praticamente contava os dias para a tal estreia do quinto filme, mesmo sabendo que a decepção pode ser o principal resultado da expectativa. Decepção não posso dizer que foi, mas assistindo o quinto filme da série, não consegui me emocionar. E Indiana sem emoção, não é Indiana Jones. O filme é longe de ser ruim, James Mangold consegue jogar pra debaixo do tapete o quarto filme e dá um novo vigor à série, tentando inserir o arqueólogo dos anos 1930 em um efervescente fim dos anos 1960. E realmente nessa primeira parte do filme, a trama funciona bem, misturando o velho Indiana em um mundo inimaginável para nós. E também a cena inicial, com a caçada à relíquia no trem com um Harrison Ford remontado em um bom CGI, para parecer 25 anos mais jovem, lembra os melhores momentos da série. Até Indiana Jones se queixando da vida, das dores e cansado em uma autoironia é um belo acerto do filme. A inclusão de Helena Shaw também deu uma motivação a mais para a trama. Vamos combinar, por mais que possamos torcer por Jones, não era plausível um cara de 80 anos fazer sozinho suas peripécias, portanto a inclusão da jovem afilhada deu o gás necessário para as cenas de ação, por mais que alguns broncos não admitam uma mulher ter seus momentos de aventura no filme de um ícone, mas cada um com seus problemas.
Na segunda parte, em diante, os problemas acontecem. Nas idas ao Marrocos e Itália, o três roteiristas, o próprio Mangold, Jez Butterworth e John Henry Butterworth, parecem que juntam o melhor (e pior) de tudo que os três primeiros filmes tiveram, misturaram num liquidificador e criaram uma história morna (com exceção do final) dando aquela sensação de já termos visto aquele filme. Tem ali o Marrocos, brigas com tipos da região, perseguições, temos tempo para ir a Espanha e ver um Antonio Banderas praticamente coadjuvante nas incursões marítimas da turma atrás do artefato, uma Itália sempre ótima pra ser fotografada, nazistas caricatos e paspalhões, um garoto ajudante de Shaw, o insuportável Teddy Kummar, numa tentativa de termos um novo “baixinho”, do Templo da Perdição, aí temos insetos, pontes que se quebram, cavernas, passagens secretas, claro que tudo faz parte do imaginário da série, mas nada soa mais como a deliciosa novidade que era antes. Uma pena que a história não se manteve mais tempo em Nova York dos anos 1960, pois seria mais divertido ver Indiana Jones lutando contra agentes da CIA, russos ou até batendo de frente com ativistas ou hippies, mas o roteiro resolveu resgatar a essência sem muita novidade do velho Indiana dos anos 1980.
Harrison Ford, como sempre, está ótimo, é incrível como ele nasceu para o papel (mesmo ele quase sendo do Tom Selleck…) e nos passa exatamente aquela ideia de um cara cansado, cheio de sequelas físicas, corpo saturado, mas que não consegue se aposentar das suas aventuras. Phoebe Waller-Bridge, como Helena Shaw, brilha em boas cenas de ação, tem algumas boas tiradas com seu dindo, mas carece de luz própria. Aos detratores e anti-mulheres heroínas, não se preocupem, não estamos vendo uma nova Indiana Jones, para isso ainda falta muito carisma da atriz. Mads Mikkelsen tem uma boa atuação, mas é longe de ser um vilão marcante, mantém um estilo caricato dos vilões da série, tem seu carisma, mas não convence muito. Antonio Banderas, rebaixado de vez em Hollywood, faz um pequeno papel de um pescador espanhol, mas sua passagem é tão curta que é facilmente esquecida. Divertido ver John Rhys-Davies, novamente como Sallah, hoje um morador de Nova York e Ethann Isidore é o trombadinha amigo de Shaw, na tentativa de colocar um moleque na trama como no segundo filme da série, mas que derrapa pela falta de carisma do garoto e forçação de barra nas suas cenas. Como ponto positivo, a fotografia, dessa vez do grego Phedon Papamichael, emulando as melhores imagens da série, ao contrário da pavorosa do quarto filme; a trilha sonora sempre marcante do genial John Williams; as cenas de ação e referências, e é claro, a nostalgia de revermos o maior aventureiro de volta às telas, por mais que com mais problemas que acertos.
Como conclusão, por mais que o filme pareça um pouco mal construído, o desfecho é, digamos, surpreendente e interessante, pode até desagradar a alguns, mas não foge à mística incrível da série. O problema é como chegamos até ali, a motivação de uma volta de Jones à labuta não parece bem definida e o próprio artefato procurado, o mecanismo de Anticítera, fica longe do charme de uma arca da aliança, pedras de sankara, cálice sagrado… mas ganha das caveiras de cristal, em poucos momentos vemos fascinação de Jones com a missão. Enfim, com quase 80 anos e tomando pancada a vida inteira, tem que ter muito dorflex pra aguentar isso tudo.
Como fã do personagem e tentando responder a minha indagação no início do texto, confesso que se pudesse evitaria, usando o mecanismo de Arquimedes, de ter um quarto filme, mas como tivemos e agora resolveram fazer um quinto (e espero último), apesar dos pesares ainda é o Indiana Jones. E Harrison Ford nos dá, dentro do possível, um final digno, realista e até surpreendente para a bilionária série, e por mais que o filme derrape e muito, é sempre um prazer ver o herói em cena, ouvir sua música no ar e se entregar, mesmo que não com a velha emoção do passado, à saga do inesquecível aventureiro, um filme nota sete, mas imperdível e que tem que ser assistido nas telonas.