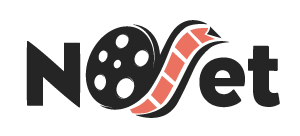Crítica: Babilônia
Ah… os loucos anos 1920. Houve uma década no pós-guerra (na época era apenas a Grande Guerra, não a primeira) que nas grandes metrópoles do mundo houve uma efervescência cultural e de costumes, extravagância, festas regadas a muito sexo, álcool, drogas, jazz e muitas danças frenéticas. Parecia que as pessoas queriam aproveitar cada minuto de vida, e na costa oeste dos Estados Unidos, uma indústria de cinema crescia cada vez mais, produzindo filmes, astros e muito dinheiro. Claro que falo da Califórnia e seus estúdios dos pioneiros do cinema mudo. Essa atmosfera hedonista da sétima arte e seus desbravadores é o mote do novo filme de Damien Chazelle, o épico Babilônia (Babylon, 2022).
O filme conta como foi a transição do cinema mudo para a novidade que era o cinema falado. Toda essa transformação é contada nas entrelaçadas vidas de três personagens principais. Nellie La Roy, abusada atriz, que sabe usar seu charme visual, com caras e bocas e entra de supetão nas produções mudas, mas seu comportamento junkie a faz entrar em diversas enrascadas. Manny Torres é um assistente de estúdio, leia-se um faz tudo, que tem que conseguir elefantes para festas excêntricas, resolver pendengas com grevistas e correr atrás de câmeras quando necessário, além de ter que aturar o difícil temperamento de Jack Conrad, galã da época, canastrão e responsável por festas homéricas. Tudo isso começa a mudar com a chegada do som no cinema, o que faz Nellie ter problemas de interpretação e difícil adaptação às novas películas, o que a faz se acabar em drogas e apostas, e Conrad, outrora um ator rico, talentoso e quase intocável, ver que seu estilo antigo já não iria agradar às novas plateias por representar o antigo, mexendo com seu ego. Manny tenta de tudo para ajudá-los na nova realidade, mas vê o quanto aquela transição era de extrema dificuldade.
Não temos como negar, Chazelle nos primeiros 30 minutos (das mais de três horas de seu filme) nos apresenta uma das festas mais marcantes do cinema. Um exemplo de tudo que o dinheiro e a fama poderiam comprar. Excentricidade era pouco, muita bebida, drogas, nudez, sexo, uma banda de jazz frenética, e uma edição incrível, onde aos poucos, no meio daquela Babilônia, somos apresentados aos nossos personagens. Só pela festa vale o ingresso. Competente também é quando ele nos mostra como eram os precários, mas eficientes sets de filmagens, como se fazia filmes mudos em 1926, tudo em planos sequência de respeito, uma reconstituição ótima e com muito humor. Além de saber usar as diversas histórias paralelas com um estilo Robert Altman, construindo um arco interessante entre os diversos personagens principais. A entrada do cinema falado poderia ser o marco final do filme, mas por quase uma hora e meia temos uma grande encheção de lingüiça, que ao invés das mais de três horas, em duas horas e meia a coisa já poderia ser resolvida. Mas a megalomania do diretor prevaleceu e temos um longo filme que não vai agradar a todos.
O roteiro é do próprio diretor, que dispensa profundidade e constrói pouco sobre os protagonistas, mas a fotografia de Linus Sandgreen é um primor, com os já comentados plano sequências, aproveitamento do cenário do deserto californiano da época, com cores quentes e a festa é de uma beleza visual exuberante. Ajuda muito a manter o ritmo do filme a frenética música de Justin Hurwitz, com um jazz vibrante, trompetes nervosos e uma percussão tribal. Edição de Tom Cross, também prima por cortes rápidos e precisos, principalmente na primeira metade do filme. Em suma, uma parte técnica interessante e marcante.
O time de atores também está bem escalado, no trio principal temos o cada vez melhor Brad Pitt, como Jack Conrad, que vai do auge ao precipício sem perder a pose, em mais uma bela atuação do eterno galã. A onipresente e cada vez mais talentosa Margot Robbie, novamente nos dá um grande papel como a petulante, ambiciosa e desbocada Nellie, abusando de suas caras e bocas e às vezes até parecendo uma Arlequina dos anos 1920. Diego Calva é o mexicano Manny, imigrante em busca do Eldorado que é a América e a indústria do cinema, tendo um papel discreto, mas essencial, como o bombeiro das duas estrelas, não perdendo a calma, para apagar os constantes incêndios da dupla. No grande elenco ainda temos Jean Smart, Jovan Adepo, como o trompetista negro alçado à estrela, Li Jun Ly, como a cantora de cabaré, Eric Roberts, Spike Jonze, Olivia Wilde, Flea e até um Tobey Maguire, como um mafioso explorador de freak shows. Aliás, o filme tem muitas doses de escatologia, desde um elefante literalmente despejando rios de bosta no tratador, gigantes comendo ratos, uma Margot Robbie vomitando numa festa de grã-finos e muita excentricidade, exageros, a cara de uma época sem freios.
A cena da cascavel no Vale da Morte também é digna de nota humorística e o final, quando Manny tem que pagar uma dívida para James McKay, que lhe apresenta o submundo da cidade, onde mantém todos os tipos de aberrações e exotismo, também pode desagradar pelo mau gosto, mas era uma realidade de um tempo. É claro que essa mudança do cinema mudo para o sonoro não podia ser mais que uma referência à Cantando na Chuva, e o filme ainda tem tempo de homenagear esse clássico em uma curiosa cena em um cinema de 1952, onde através de uma catarse toda a história da sétima arte nos é apresentada em minutos, provando que graças aqueles doidos e sonhadores que topavam tudo para fazer filmes, hoje o cinema é o que é, um bela homenagem ao cinema e tudo o que ele nos representa.
Babilônia não é um filme fácil, custa um pouco para ser absorvido, com certeza não irá agradar a todos, é uma viagem visual que começa de forma impactante, mas se perde no ritmo lento que o filme vai assumindo, se preocupando demais com dramas existenciais dos personagens, de uma maneira rasa e cansativa. A experiência de assisti-lo nos cinemas é válida, pois além de ser aquela ode meio dantesca à sétima arte, nos causa um certo desconforto e reflexão, o que por si só já valem o ingresso, porque cinema é imersão e Babilônia, por mais que tenha muitas imperfeições consegue mexer com o espectador, além de ser uma pequena aula de como funcionava a fábrica de sonhos que era o cinema dos tempos idos.