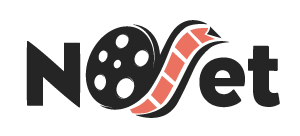Crítica: Vidas Passadas
Como diria o poeta: “A vida é a arte do encontro”. E por mais que nossa existência teime e nos force a termos não tão inesquecíveis desses encontros, é inevitável que muitos deles possam marcar para sempre nossas vidas e serem responsáveis por todas nossas trajetórias. E quando esses encontros então desabrocham os famosos E se em nossas vidas, aí que nossos sentimentos pifam de vez e a reflexão de uma vida diferente do que traçamos pode causar um grande impacto. Com uma premissa sobre essas peças existenciais e escolhas de vida que a dramaturga Celine Song nos brinda com um dos filmes mais bonitos do ano passado, Vidas Passadas (Past Lives, 2023), aguardada estreia nesta quinta nos cinemas.
O filme conta a história de Nora e Hae Sung, que na pré-adolescência em Seul, mantinham uma amizade, um amor pueril, além de manterem uma competição severa de desempenho na rígida educação sul-coreana. Os dois acabam se separando quando a família de Nora se muda para Toronto no Canadá em busca de nova vida, quebrando abruptamente o contato dos dois. Então, 12 anos depois, com as redes sociais, um Sung com 24 anos acaba achando Nora no outro lado do mundo e ambos afloram seus sentimentos. Em mais um corte temporal, o rapaz, um sul-coreano típico, solteiro, bem formado, que ainda mora com os pais, decide passar umas férias em Nova York, local em que mora Nora, hoje uma dramaturga de sucesso e casada com um estadunidense típico, o Arthur. Ocasião que mais de duas décadas depois proporcionará o encontro dos dois, onde puderam depois de tanto tempo se verem pessoalmente e aparar arestas de suas vidas.
Em sua estreia nas telonas, dirigindo e assinando roteiro, Celine Song nos premia com um espetáculo visual, em uma singela história banhada de sentimento, saudades, amor platônico e carinho. Muitas vezes utilizando apenas de enquadramentos precisos, câmeras que seguem os personagens, e uma Nova York filmada com outra perspectiva, consegue transmitir toda a complexidade da amizade dos dois personagens, que mesmo com uma paixão que passa pela tangente, desconcentra de uma maneira angustiante a vida dos dois. Ou dos três, né? Arthur, o estadunidense que representa o novo na vida de Nora, a ocidentalização quase total de sua vida, também é tocado com o encontro, e ele por mais desencanado e com pensamentos livres, também se abala com a chegada de Sung, tornando-se praticamente um sujeito estranho no seu próprio chão, no caso Nova York, onde os dois personagens revivem uma Seul de 24 anos atrás, uma época de reminiscências, se fechando em uma bolha do passado e tentando, através de sutis indagações, um possível romance entre os dois.
Song também segue na trama a filosofia do in yeon, ou providência do destino. Algo que vem do budismo, que como se independente da vida que levamos no presente, em outra reencarnação já tivemos contato, já tivemos nossas vidas entrelaçadas e pela eternidade manteremos a chama desse encontro. O filme sugere essa conexão ad eternum, que duas pessoas podem seguir sempre ligadas, haja o que houver, e Nora e Sung fazem parte disso.
O trio de atores está ótimo, tanto John Magaro, como o até certo ponto seguro e amável Arthur, sempre na sombra do casal, nunca atrapalhando o vínculo dos dois amigos, mas como se diz o ditado, cuidando do peixe sem tirar o olho do gato, quanto Teo Yoo, como Sung, o disciplinado rapaz, que fez sua vida como um bom sul-coreano, mas que não iria sossegar sem abrir ou resolver seu passado que é a presença marcante de Nora, em uma atuação extraordinária de Greta Lee, que nos apresenta uma madura e decidida Nora, mas que mesmo assim ainda tem algo que ficou há 11 mil quilômetros atrás e mexe com seu coração. Em uma tentativa simplista de representação dos dois, Sung representava o passado, a infância e pré-adolescência, as tradições, o outro lado do mundo e Nora seria a revolução pessoal, o novo, o risco, a busca dos sonhos, a independência e respeito, mas que ainda carecia de respostas daquele velho mundo que largou aos 12 anos, que estavam representados por Sung.
A fotografia de Shabier Kirchner é uma aula de cinema. Fugindo do óbvio com seus ângulos e demarcando a trama como se nós observássemos de uma distância confortável os passos de Nora e Sung, utilizando a Grande Maçã como cenário com uma outra ótica, não óbvia, mas para que a cidade cosmopolita sirva como mais um personagem vivo e um terceiro elemento em cena. O mesmo vale para a trilha de Christopher Bear e Daniel Rossen, que sem exageros, com emoção em tons precisos, transmite toda a sutileza da pouco ortodoxa história de amor.
História essa que desde a primeira cena mostra os três personagens em um bar em Nova York bebendo, e vozes ao fundo da tomada, tentando decifrar quem era quem ali, quem era o casal, se Sung e Nora eram irmãos, se eram um casal, se o rapaz americano era apenas um amigo, enfim, qualquer interpretação de uma cena poderia ser válida no pressuposto que a vida é isso mesmo, apenas depende do ponto de vista do observador ou de como a montamos. E Celine Song, nesta inebriante experiência visual, sonora e reflexiva, conseguindo despertar nossos sentimentos e jamais caindo na pieguice, nos premiou com um dos melhores filmes do ano passado, uma estreia de luxo e promissora da dramaturga sul-coreana.
E com seu Vidas Passadas nos apresenta uma película para refletir o quanto pequenas decisões podem mudar para sempre a vida e o exercício de pensarmos nossas vidas como seriam se tivéssemos tomado outros rumos é uma maneira de vermos como cada decisão da nossa caminhada é imutável e o que escolhemos para nós é o que temos que viver de melhor. Ou como diria o in yeon, talvez já tenha sido definida, nem que seja em mal traçadas ou questionadas linhas.