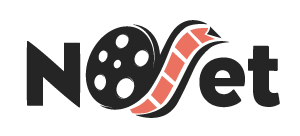Crítica: Guerra Civil
Só o cinema pode nos proporcionar um filme em que uma coalizão do Texas e da Califórnia decidem enfrentar, com ajuda de rebeldes da Flórida, o governo “legal” dos Estados Unidos. E essa distópica e apocalíptica guerra é narrada pelos olhos de um inglês acostumado com histórias surreais. Guerra Civil (Civil War, 2024), de Alex Garland, é uma das estreias da semana e uma das mais esperadas do ano.
No meio desse cenário de devastação em território dos Estados Unidos, um grupo de jornalistas se reúne em Nova York para buscar um furo histórico de reportagem. Joel, experiente jornalista, quer ir à capital (que está a um passo de ser tomada pelas Forças Ocidentais, a tal coalizão) fazer uma entrevista com o polêmico e autoritário presidente da república. Junta-se a ele a fotojornalista Lee Smith, veterana de conflitos pelo globo afora para tal empreitada. Acabam embarcando na viagem Sammy, jornalista das antigas, do que restou do New York Times, e uma jovem fotógrafa, Jessie, que tem Lee como maior fonte de inspiração. Juntos partem rumo a Washington D.C. e são testemunhas de uma América devastada por ódio e destruição, num insano e incrédulo combate dividindo seus cidadãos.
Não tem como não fazermos uma comparação de Guerra Civil com o clássico do cinema soviético Vá e Veja. Em ambos, a guerra é apenas um cenário registrado por jornalistas, que têm suas câmeras fotográficas como testemunhas silenciosas de um massacre. Se no soviético a Segunda Guerra era o cenário, Alex Garland, com roteiro assinado por ele mesmo, nos apresenta uma América, que por mais distante e improvável que possa parecer, no fundo, em um mundo com tantas diferenças de opiniões e em intensa guerra cultural (por sorte ainda é apenas no âmbito verbal), não é loucura imaginar esse tenso cenário. Mas Garland acerta e muito em não tomar partido, lado, nada explica o porquê daquele teatro de guerra, o que pode causar certa impaciência em uma audiência que gosta de vilanizar e busca herois em qualquer situação.
Guerra Civil é uma ode ao jornalismo de fronteira. Surpreende a coragem e despojamento de certos profissionais que correm risco de vida atrás de uma matéria, um furo ou apenas uma foto. O filme é um olhar um tanto cínico, ausente de emoções e calejado, de profissionais que com suas câmeras e um foco procuram eternizar a barbárie num retrato. Ou como mesmo a personagem de Kirsten Dunst, Lee Smith narra, que ao fazer aquilo e mostrar para o mundo o caos da guerra, achou que isso evitaria as pessoas de viverem essa realidade…
A trama é uma road trip do terror. Os quatro jornalistas, como uma família acidental, percorrem quilômetros entre cidades bombardeadas, são recebidos por milicianos de poucos amigos caçando novos inimigos, presenciam um tiroteio brutal entre tropas legalistas e golpistas, pedem ajuda em campos de refugiados de guerra, viajam por estradas fantasmas e encontram o terror e o fanatismo até a chegada explosiva na capital. E cada situação vivida pelos personagens é carregada de medo, tensão sufocante, pessimismo e um apocalipse deprimente e assustador.
O nosso Wagner Moura é Joel, jornalista malandro, que não mede esforços por uma boa matéria, e responsável pelos poucos alívios cômicos e de humanidade (ou que achávamos que era humanidade, antes daquele sinistro caos), mas ainda tem seus maneirismos repetitivos do ator que parece que lá fora está sempre fazendo o mesmo tipo de papel. Kirsten Dunst está muito bem como a quase insensível, marcada por traumas e desesperança Lee Smith, que de tantas chagas de conflitos parece que é apenas um zumbi em nome de um registro fotográfico. Caille Spaeny, ao contrário, era Lee Smth ontem, como a jovem fotógrafa Jessie, mostra toda a sua angústia com o conflito, suas fraquezas, mas aliadas à irresponsabilidade da juventude, o sangue novo na profissão, não mede esforços em busca do reconhecimento. Stephen McKinley Henderson também está ótimo como o veterando jornalista das antigas, Sammy, que consegue equilibrar a melancolia com a esperança, esbanjando experiência e sabedoria. Cabe destacar o curto papel, mas marcante, de Jesse Plemons, como um soldado indefinido, em uma das cenas mais impactantes do filme. O ator parece que tem ímã para grandes produções e com um papel curto consegue ter uma relevância incrível pra trama.
Como espetáculo visual, Guerra Civil cumpre todos os requisitos. Edição na medida certa, uma trilha sonora que altera momentos de euforia a sufocantes e perturbadores sons. Som, fúria e silêncio que devasta a alma, causando impotência ao espectador, como um inusitado voyeur de tanta crueldade. Uma edição de som que faz a gente mesmo parecer estar no meio da guerra, onde a violência é explícita, não poupando detalhes, tiros à queima roupa, fuzilamentos, mortes chocantes. Cenas viscerais com requintes de impiedade. A fotografia também, contrastando aquelas belas estradas estadunidenses com cidades outrora acolhedoras e pacatas, aos escombros, viradas em pó, cidades fantasmas. Filtros em preto e branco, closes como se fossem retratos, câmera lenta, todos recursos para criar e transpor o cenário bélico em imagens impactantes.
Guerra Civil é um dos melhores filmes do ano, uma visão neutra, pela lente e lápis do jornalismo, onde nenhum lado parece ter razão em tamanha barbaridade (qualquer semelhança com conflitos verdadeiros é pura coincidência, não é?). Um mundo onde a naturalização da violência é cotidiana, a morte e o abatimento do inimigo, que antes era seu colega, seu vizinho, é como se fosse uma caça de fim de semana a cervos nas florestas (a imagem final do filme é um retrato perfeito desse sentimento bélico e busca dos estadunidenses de premiação por isso), onde a democracia é deixada de lado pela tirania e o revide veio na mesma proporção com violência, sangue e terror. Um filme impactante, que ao sair do cinema nos deixa uma sensação de que qualquer traço de uma vida normal e cotidiana pode desaparecer por completo sem muito sentido. E sobre a importância da informação, da imagem, onde a própria lição de Lee para Jessie, que explica que de 30 fotos apenas uma pode se salvar, e às vezes essa foto pode ser suficiente para escancarar aos olhos da sociedade a tênue linha que separa a civilização da barbárie.