A revisita a um mito das telas em Kong: A Ilha da Caveira
Mito nas telas de cinema que remonta aos longínquos anos 30, King Kong volta a mostrar sua cara, dessa vez para a plateia dos anos 2010, em Kong: a Ilha da Caveira (Kong: the Skull Island, 2016), blockbuster de grande porte e som na caixa, hábil em desenvolver sua narrativa com boas surpresas. O bichão apareceu pela primeira vez sem a tecnologia alcançada nos dias de hoje (que logo serão dias de ontem, é bom lembrar, mas fica o registro de um tempo aqui), e ainda assim virou um ícone do cinema de terror aventureiro, ou aventura aterrorizante, por assim dizer. As refilmagens homônimas de 1976 e 2005 se encarregaram de manter a lenda viva, e o longa (até agora) mais recente é assinado por Jordan Vogt-Roberts, que tem sua direção no IMDB creditada em nada menos do que 17 títulos, entre obras para o cinema e a televisão. Não é um novato, portanto, mas seu trabalho mais conhecido talvez seja apenas Os reis do verão (The kings of summer, 2013), comédia dramática sobre um grupo de amigos em fase de crescimento que não é o tipo de filme que serviria de credencial para assumir um filme “de estúdio” como esse retrato de Kong.
A despeito dessa bagagem díspar, ele não faz feio e conduz a ação com segurança, investindo em ângulos de observação inusitados cuja força se potencializa em sessões 3D – em que pese o certo cansaço visual que esse recurso cause lá pelas tantas, mas isso com qualquer outro filme. As cenas de tensão, prato cheio para revelar o quanto o diretor pode dar conta de eletrizar seu público, são uma prova de foto pela qual ele passa com sucesso considerável. Em termos de ambientação e clima, Roberts bebe de duas fontes de muito respeito. Seu recorte do período logo em seguida à retirada das tropas estadunidenses do solo vietnamita, colocando termo a uma guerra que feriu os brios dos EUA, remete a uns certos Apocalypse now (idem, 1979) e Nascido para matar (Born to kill, 1987), registro de tempos de guerra talhados com desencanto e plasticidade. Enquanto o primeiro se faz lembrar pela selva hostil e enlouquecedora, o segundo é evocado pelo olhar fotográfico de Mason Weaver (Brie Larson), fotógrafa antiguerra, nas suas próprias palavras, que clica em mil poses o dia a dia dos soldados e embarca na expedição rumo à tal ilha do título.
Mason (cujo nome é normalmente dado a bebês do sexo masculino) é parte de uma equipe que inclui militares e outros civis, reunidos por causa da insistência de William Randa (John Goodman), certo de que o lugar, um dos últimos não mapeados da Terra, guarda exemplares de uma natureza de outras eras. O grupo também contém James Conrad (Tom Hiddleston), atualmente interessado em recompensas para guiar pessoas na ilha, cientistas parceiros de William um tenente coronel do Exército, Preston Packard, vivido por Samuel L. Jackson, que conduz sua tropa. Seus homens estavam a caminho de casa quando são deslocados para uma última missão, e os contornos e recheios perigosos dela não demoram a ser revelados, a começar pela tormenta que se espraia nos céus da ilha e dificulta o acesso a ela, e aí está o primeiro grande perrengue dessa trupe. Muitos outros virão, e está garantida a sessão aventura, daquelas que provoca inquietude na poltrona. O roteiro acerta em mesclar essas passagens de agonia aos conflitos e controvérsias dos personagens, construídos para além de algumas obviedades. Mais adiante, entra em cena o tenente Hank Marlow, confinado à ilha desde a Segunda Guerra Mundial, uma das melhores interpretações de John C. Reilly.
De qualquer maneira, uma trama como a de King: a Ilha da Caveira não está pautada no realismo e, por vezes, Mason e outros civis demonstram uma conduta bem mais produtiva do que se poderia supor. O que está longe de ser demérito: acaba que estamos diante de um hibridismo entre o registro verossímil e a imaginação vagante em torno de um ser que representa parte do que a natureza tem de mais bruto e resistente, mas sempre em nome de uma autodefesa. Um nome em especial chama a atenção no time de roteiristas. Dan Gilroy, escritor e cineasta de O Abutre (Nightcrawler, 2014), colaborou com sua escrita, o que só depõe a favor da produção, visto a qualidade com que ele desenvolveu o longa estrelado por Jake Gylenhaal na pele de um caçador de desgraças pelas ruas e casas de Los Angeles. Não se sabe exatamente até que ponto vai sua participação no texto, mas qualquer que tenha sido, foi bastante satisfatória. Houve quem criticasse a participação de Larson, considerando sua personagem como mero interesse romântico de Kong, o que não poderia ser uma visão mais reducionista e impertinente. Mason não tinha treinamento algum para estar naquele ambiente selvagem, tinha mais é que ficar mais na dela e, mesmo assim, ela tem papel decisivo na luta pela sobrevivência do grupo a certa altura.
A deslumbrante paisagem não é puro efeito de computação gráfica. Toda a equipe embarcou para locações ao norte do Vietnã e em parte da Austrália, esta última situada no chamado Novíssimo Mundo, com muitos espaços ainda intocados, que encantam retinas a eles expostas. Quanto à trilha sonora, chama a atenção a lista executada, que passa por Black Sabbath, David Bowie e até o brasileiríssimo Jorge Ben Jor, que entoa Brother, canção de versos que evocam a fraternidade e convidam a preparar um caminho pacífico e florido para o Senhor. Cada música entra na hora certa, assim como a edição e a mixagem de som fluem maravilhosamente, tornando bem provável indicações ao Oscar – quiçá vitórias – nessas categorias. Com tiros, explosões e urros de Kong e outros seres fantásticos que habitam a Ilha da Caveira, os tímpanos são desafiados constantamente e a experiência é potencializada nas exibições em salas com a tecnologia adequada para um alto nível de imersão. E se o foco desse parágrafo são os aspectos técnicos, como não elogiar a fotografia de Larry Fond? Nome recorrente em blockbusters de super heróis ou não, ele captura variações luminosas e encanta os olhos com um show de matizes pelo qual vale a pena conferir a aventura na telona.
Outro grande acerto de Kong: a Ilha da Caveira é dar bastante espaço ao verdadeiro rei da história, que se mostra o tempo todo como uma criatura bípede e tem seus breves respiros de ternura com Mason. Para quem se decepcionou com a versão mais recente de Godzilla (idem, 2014), por exemplo, em que o monstro aparecia quase sempre nas sombras e depois de muito tempo tendo sido apenas mencionado, as constantes aparições do rei gorila são um prato cheio. Para quem pensa que ser impossível um bichão daquele tamanho no mundo real, a ciência mostra que não é bem assim. O maior primata já rastreado podia chegar a 3 metros de altura e ter entre 200 e 500 quilos, medidas que o aproximam bastante do dono do filme. O triste é saber que as teorias apontam que ele foi extinto por sua baixa capacidade de adaptação, problema que Kong não tem. Seu domínio sobre a ilha está assegurado por sua fúria proporcional à força, e mesmo seu grande oponente não parece de fato à sua altura nessas características. Esses e outros motivos garantem qualidade do longa de Roberts, e a semente para um novo embate está plantada na cena pós-créditos.
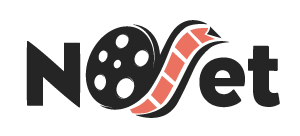







1 Comment
Belas observações sobre o filme, Patrick. A trama realmente foi bem conduzida, incluindo a parte técnica. Cabe apontar que muitos filmes blockbuster investem pesado em efeitos pesados e cenas explosivas, o que também existe em Kong, mas o longa-metragem sobre King Kong não se restringe a isso, apresentando um acréscimo à mitologia do monstro. Toque de mestre por distanciar o gorila e a mulher do já batido “relacionamento”.
Parabéns pela resenha.