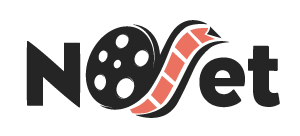Crítica – Happy (1ª temporada) | A loucura natalina dos quadrinhos para a TV
 Originalmente exibida pelo canal americano Syfy e posteriormente distribuído pela Netflix, Happy é uma série baseada em uma HQ criada pelo escritor Grant Morrison e pelo artista Darick Robertson. Calcada em um humor negro e ambientado em uma Nova York estilizada no submundo do crime e da mente do protagonista Nick Sax, a narrativa acompanha o ex-detetive alcoólatra autodestrutivo que é jogado numa trama envolvendo chefões do crime, sequestro de crianças pelo Papai Noel e uma espécie de mini unicórnio azul voador que só aparece para alguns personagens.
Originalmente exibida pelo canal americano Syfy e posteriormente distribuído pela Netflix, Happy é uma série baseada em uma HQ criada pelo escritor Grant Morrison e pelo artista Darick Robertson. Calcada em um humor negro e ambientado em uma Nova York estilizada no submundo do crime e da mente do protagonista Nick Sax, a narrativa acompanha o ex-detetive alcoólatra autodestrutivo que é jogado numa trama envolvendo chefões do crime, sequestro de crianças pelo Papai Noel e uma espécie de mini unicórnio azul voador que só aparece para alguns personagens.
Pois é, a loucura contida na premissa já chamaria a atenção sem muita necessidade de explicação. Como se os produtores já soubessem que não adiantaria levar a história muito a sério, escolheram apresentá-la sem enrolação em seus primeiros 15 minutos. Logo na abertura, a abordagem deixa clara sua pegada na estilização narrativa. Uma sequência onírica/entorpecente com uma linguagem referencial, violenta, sexual e pitadas de elementos de fantasia, uma mistura incomum que acaba dando certo no fim das contas, quase um realismo fantástico com drogas. Com alguém como Nick Sax, não demora para que tudo isso se encaixe rapidamente. Difícil é decidir se ele é naturalmente danificado em sua personalidade excêntrica ou se é produto de um mundo pessimista concebido originalmente por Morrison e Robertson.
Porque essa é a impressão que é marcada no 1º episódio (Saint Nick). Repleta de desesperança, a cidade que não dorme na verdade está doente pelo pior do ser humano. Por trás das comemorações de Natal e dos shows infantis, o crime impera e o pior da sociedade aparece nos becos, nos traficantes e estupradores, mas também no ex-policial que se tornou assassino de aluguel. Não vemos essa história do aparente lado do “bem”, mas de um personagem que está tão estragado a ponto de ter deixado (ao menos aparentemente) todos os mínimos valores de empatia para trás. Sax é só mais um que caminha no meio da sujeira da grande cidade e parece nunca se sentir muito preocupado com a possibilidade de ter entrado no meio de uma confusão envolvendo um dos chefes do crime e seus sobrinhos, quando, ao ser contratado para matá-los, acaba descobrindo uma suposta senha que o coloca como um alvo detentor de um segredo almejado por todo tipo de figura execrável.
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=jZtXtIYdA8U
Não que ele, como dito, seja muito diferente disso. Interpretado com muita energia e timing cômico por Christopher Meloni (Law & Order: Special Victims Unit), o ex-detetive surge como um caso perdido. Reunindo o pior aspecto de um protagonista vindo de um noir no pessimismo e no humor negro influenciado pela “referência da referência” exploitation de Robert Rodriguez e Tarantino, Nick tem muito caminho a percorrer para que sequer o consideremos um anti-herói, uma jornada potencialmente interessante de se acompanhar, ainda mais porque a série guarda o choque inesperado do personagem Happy (com a voz de Patton Oswalt), o amigo imaginário de uma criança, Hailey Hansen (Bryce Lorenzo), que vai em busca de Sax para que ele o ajude a encontrar depois de ter sido sequestrada por um maníaco vestido de Papel Noel (pois é, é maluco mesmo).
Aliás, um dos principais motivos para que a narrativa funcione é justamente a bizarra contraposição entre a violência, o anti-herói e o drama envolvendo o universo infantil representado por Hailey e Happy. Se parece que isso não vai dar certo pelo choque de propostas, é no humor que a coisa toda funciona. Nada mais clássico, aliás, do que inserir um personagem que nada tem a ver com uma situação para extrair graça do resultado, só que aqui isso acontece quando vemos o unicórnio voador fofinho ajudando o protagonista escapar de bandidos e um torturador psicopata profissional, trapacear em um jogo de poker e cheirar cocaína sem querer. Parece absurdo (é mesmo), mas a narrativa logo trata de nos conduzir de uma maneira mais descontraída do que realmente assustadora. É o tipo de obra que nos permite a diversão através de tudo que não seria de fato na vida real – o que, convenhamos, é uma das características mais bacanas do audiovisual.
Claro que parte dessa imersão na maluquice de Happy se deve ao trabalho de Brian Taylor, que comandou 5 dos 8 episódios. Responsável por dar o tom cartunesco no início da série, o diretor usa de uma estilização acentuada para deixar clara a abordagem distante de qualquer “realismo sério”. Assim, desde a sequência inicial em câmera lenta banhada de sangue e embalada por uma espécie de musical macabro até as perseguições filmadas em um modo frenético e com os quadros levemente acelerados – característica, aliás, de alguns de seus trabalhos, como em Adrenalina (Crank, 2006) – que emulam a visão delirante de Nick Sax (fora o uso de split screen como um recorte dos quadrinhos), a narrativa exibe, ao menos visualmente, energia o bastante para captar nossa atenção. É verdade que a impressão que fica nos 2 ou 3 primeiros episódios é que tudo não passa de um exercício estético fundamentado na linguagem do material-fonte: um belo exercício, mas só. Entretanto, no decorrer da história, Taylor demostra um equilíbrio essencial para que a forma acabe não tomando conta de toda a expectativa.

O que leva ao que sempre se mostra essencial em uma história: seus personagens. Com a colaboração de Grant Morrison, o arco da maioria deles vai sendo plantado aos poucos durante a trama. Demora um pouco a engatar, mas as motivações vão aparecendo aos poucos e as conexões entre eles vão surgindo organicamente durante o decorrer dos episódios. Meredith, a ex-parceira de polícia e par romântico – se é que podemos classificar assim – vivida por Lili Mirojnick, é a personagem cujo pêndulo moral oscila entre a esperança de trazer Nick de volta à vida normal e a subordinação a uma força policial corrupta com ligações entranhadas no crime – embora o texto nunca consiga imprimir a dubiedade que acredita fazer, bastando um pouquinho de chão para que não duvidemos de suas intenções. Já a mãe de Hailey, Amanda (Medina Senghore), fecha o girl power com Meredith, ganhando substância em um episódio focado em seu passado e posterior participação na trama central.


Um dos problemas da série é que há uma demora para que o antagonismo geral ganhe importância. Estruturalmente, passamos muito tempo nas peripécias da parceria estranha entre Nick e Happy (não que isso seja ruim), quando parece que eles só têm a eles mesmos a combater enquanto as ameaças ficam lá no fundo. Mas, a partir do meio da temporada, o roteiro toma um espaço para retratar o núcleo dos vilões, liderado por Mr.Blue (Ritchie Coster, quase um Heisenberg genérico), de maneira excêntrica, claro. Inclusive, é nele que se encontram várias das gags que funcionam na imagem de sua família de aparência perfeita, mas sociopata nas ações. Já o personagem de Mikey (Gus Halper), filho de Isabella (Debi Mazar) – que é irmã de Mr.Blue –, aparece pontualmente jogado mais para servir de gancho para a 2ª temporada do que outra coisa; assim como o arco de sua mãe, que toma tempo – embora o humor relacionado ao absurdo do reality show funcione – e só serve para escorar a trajetória deslocada do filho.

Mas é mesmo Christopher Meloni que brilha como um protagonista repulsivamente carismático. Conseguindo aliar uma enorme presença intimidadora com um talento para a comédia, Nick Sax é tão errado que dá gosto de ver. Se normalmente a quantidade de facetas do personagem poderia parecer desequilibrada num outro contexto, o ator tem a habilidade de juntá-las todas num pacote excêntrico soando, ao mesmo, revoltante e digna de pena. Ainda assim, há espaço para desenvolver sua personalidade – algo essencial para que a série funcionasse –, fazendo com que realmente nos importemos com ele, apesar dele mesmo. Para completar o pacote perfeito, Patton Oswalt traz inocência e verdade para Happy, o amigo imaginário que, naquele mundo, parece servir como a consciência (ou assombração) para personagens traumatizados por alguma razão, o que casa perfeitamente com a dupla que faz com Nick. É, como dito, a contraposição extrema que resulta num humor incômodo e absurdo. Mesmo que na maior parte do tempo, seja possível imaginar a trama de Happy sem seu personagem homônimo – para isso, basta imaginar como tudo funcionaria sem ele com alguns pequenos ajustes, o que é um problema –, é fato que sua presença também é essencial para a graça e para ajudar o aspecto dramático, o que contribui bastante para a construção dos arcos principais ganhem peso, mesmo no meio da proposta maluca da série.

Porque, apesar de tudo ser um grande deboche estiloso, o roteiro encontra tempo para investir em seus temas. Em um dos melhores episódios, When Christmas Was Christmas (Brian Taylor) – e talvez o mais “comportado” visualmente, vemos o passado de Sax numa narrativa perfeitamente montada para estabelecer ligações pessoais e temáticas em torno daquele universo. O mote mais evidente é o uso do espírito natalino nova-iorquino como um meio da série achincalhar seus valores através das bizarrices da trama e dos personagens. Recorrente em todos os 8 episódios, os símbolos do Natal são constantemente colocados como um fundo para contrapor o pessimismo, desde A Felicidade Não Se Compra (clássico de Frank Capra que virou tradição no feriado americano) passando nas tvs até o vilão vestido de Papael Noel (Joseph D.Reitman), que, no fim das contas, é o resultado de tudo que deu errado acerca das virtudes pregadas pela data. A abordagem se enfraquece quando a história é interrompida para que haja um episódio só para explicar essa temática (o segmento que ocorre em um metrô), servindo basicamente como um tutorial desnecessário para deixar tudo mastigado para o espectador, mas, felizmente, não é o suficiente para afetar todo o restante.
Juntando humor negro, satírico e muito referencial (a exemplo de toda uma subtrama que envolve uma espécie Toy Story pessimista e uma brincadeira explícita com Cães de Aluguel), Happy diverte pela despretensão total e pela confiança em um público que se encaixará na proposta condenável de sua história anti-tudo.
Mas é aquela coisa, aproveite que há produções como essas que servem justamente para guardar temporariamente toda sua sensatez e aproveitar uma temporada curta mergulhada na loucura.
Nota:
Direção: Brian Taylor, Wayne Yip, David Petrarca,
Criador: Grant Morrison e Darick Robertson
Elenco: Christopher Meloni, Patton Oswalt, Lili Mirojnick, Ritichie Coster, Joseph D.Reitman, Patrik Fischier, Medina Senghore, Debi Mazar, Bryce Lorenzo